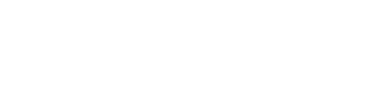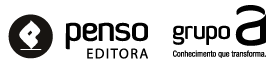Tempo sem glamour
sobre “Meia noite em Paris” e nostalgia
O tempo presente é o primo pobre da nossa imaginação. Com os olhos voltados para o futuro esperamos dele curas, invenções, prazeres, liberdades e outras maravilhas. Viver muito, testemunhar e aproveitar ao máximo o que virá, é o nosso lema. Os jovens encarnam o espírito de nosso tempo como ninguém, a vida adulta está associada à mediocridade e a velhice nos apavora. Mas há um tipo de passado que ainda reverenciamos: é a crença de que os grandes homens pereceram outrora, quando revoluções, guerras e diásporas desacomodavam a humanidade. Idealizamos os tempos de vida dura dos nossos antepassados. Frente a eles colocamo-nos como descendentes indignos, fracos, sem protagonismo, amolecidos pelas comodidades e pela paz. Resta-nos o sentimento de não ser autênticos, de nada ter de genuíno ou empolgante para relatar.
Septuagenário, Woody Allen está acertando as contas com alguns dos seus antepassados artísticos, hoje ícones culturais. Seu ultimo filme, “Meia noite em Paris”, é similar à “Rosa Púrpura do Cairo”, no sentido de uma passagem mágica a uma fantasia do protagonista. Gil, o alter ego de Allen da vez, é um americano, escritor de roteiros comerciais, fascinado pela cidade luz. Está em visita à capital francesa com uma noiva fútil, mas afasta-se dela em busca de inspiração artística e acaba encontrando-a em surpreendentes visitas a um passado fantástico. Noite após noite, ele embarca numa viagem mágica aos anos 20, quando uma legião de artistas estrangeiros, como Hemingway, Picasso, Cole Porter, Buñuel, Dali, Gertrude Stein, Zelda e Scott Fitzgerald, entre outros, exilaram-se em Paris para beber, amar e criar. Para Gil o presente é um tempo errado, no qual nada acontece, nem se produz algo memorável.
Convivendo e discutindo com esses autores-personagens, no momento em que suas obras nasciam, descobre que o gênio não se sabe tal enquanto cria. Até para eles o presente era trivial, enredado em amores, ambições e conflitos e só o tempo dirá o que se tornará perene. Nas viagens mágicas, Gil reconhece que no presente deles, seus heróis tampouco sabiam que sua obra e época valiam a pena, por isso sai delas capaz de legitimar seus sonhos. O filme revela nossa necessidade de buscar patriarcas, antepassados a quem possamos atribuir a filiação dos nossos empreendimentos. Para isso servem histórias de um passado idealizado, as Eras de Ouro. Fantasias são portais onde entramos para encontrar nossos desejos e segredos. Com ou sem elas, Woody Allen, acha que com certa sabedoria é possível aceitar a própria realidade e ainda achar graça disso.
Versões do abismo
Sobre o livro de Eliane Brum, “Uma:duas”, relação mãe-filha e jornalismo e ficção.
Alguma coisa acontece quando um jornalista se aventura na ficção. Narrativa assumidamente inventada, a literatura é livre, solta da verdade, conscientemente narcisista, ignorante da realidade. Já o repórter voa como um balão de gás preso a um cordão, não pode nem deve desconectar-se, pois dele esperamos um mundo menos incompreensível. Ser bom numa profissão é arcar com as utopias que ela carrega: a do jornalista é de que a informação seja confiável, de que podemos fazer a soma das versões e ter como resultado a verdade. São os jornalistas nossos olhos, ouvidos e pernas extra, graças a eles podemos transcender e compreender o que de relevante se passa além das nossas estreitas fronteiras.
Ao contrário do óbvio de seu ofício, que é fazer de seu trabalho telescópio, satélite, olhar maior, Eliane Brum sempre trabalhou com o microscópio. Pois não é somente o que está longe que nos escapa. Assim em suas reportagens, livros e documentários revelou gente que está conosco, mas não é visível a olho nu, experiências de vida, miséria, morte e superação às que nunca prestaríamos atenção. A peculiaridade desse trabalho sensível um dia ainda ia acabar em ficção, e assim foi.
Dar voz pública às mulheres trouxe como consequência a oportunidade de divulgar seus pesadelos típicos, entre eles o maior: o de afogar-se nas águas abissais da relação mãe-filha, uma luta corpo a corpo, onde uma fenece para que outra desabroche. É sobre isso o primeiro livro de ficção de Eliane: “Uma:duas”, publicado pela Leya. Sua personagem Laura é uma filha que procurava tirar a mãe do seu corpo, sabendo que sem isso, nada sobraria. Como sair das entranhas, sem poder partir completamente?
Mulheres precisam ocupar um corpo que a cada dia se torna mais semelhante ao da própria mãe. Minhas filhas tinham pavor da “Maria Degolada”, o fantasma de uma mulher assassinada, lenda da tradição de Porto Alegre. Dizem que se nos trancarmos no banheiro e gritarmos três vezes seu nome ela aparecerá no espelho. Elas tinham razão, para nós mulheres os espelhos sempre guardam uma assombração, é a cara da nossa mãe, é a nossa cara da mãe.
Mesmo navegando na fantasia, Eliane, a jornalista, não podia deixar de ouvir os dois lados. o pesadelo simbiótico tem duas versões, mãe e filha escrevem o que sentem sem ler uma à outra, cabe a nós a acareação da verdade inexistente. Elas se odeiam e amam com paixão e nos conduzem por sua dolorosa separação. É uma reportagem nos abismos. Eliane invadiu os divãs, os pesadelos das mulheres e de lá, mais uma vez, trouxe notícias quentinhas.
Mães de pequenas misses
sobre a relação mãe-filha, revelada em seu excesso nos programas sobre concursos de beleza infantil
Semana passada, nos Estados Unidos, uma mãe perdeu a guarda da filha por ter declarado num programa de televisão que fazia aplicações de Botox na sua pequena de 8 anos, visando suprimir rugas (sic). Como se vê, a paranóia do envelhecimento exige ações cada vez mais precoces! O objetivo da senhora era tornar a menina competitiva em concursos de beleza infantis. Esse tipo de mulher protagoniza um popular programa de tevê a cabo “Pequenas misses” (Discovery Home&Health), um reality show que acompanha a trajetória obstinada de mães para transformar crianças em versões da Barbie, com maquiagem pesada, penteados improváveis, manicure e até depilação.
As entrevistadas quase sempre são mães obesas, que apresentam visíveis sinais de abandono pessoal. Elas organizam sua vida em torno dos tais certames, onde suas bonecas de corda as representam, pequenos avatares, marionetes a serviço da frustração materna. É fácil indignar-se e ficar contente com a merecida punição de uma delas, pois é explícita no programa a monstruosidade dessas destruidoras de infância. Partilho desses sentimentos. Porém, em sua coluna da Folha de São Paulo, corajosamente Rosely Sayão se pergunta: “será que os pais do programa são muito diferentes daqueles que enchem a agenda dos filhos com aulas de todos os tipos? Dos que procuram definir o futuro dos filhos do modo como eles arquitetam?”. É diferente, conclui, mas sabemos que é evocativo.
A seu modo, essas senhoras cujo próprio corpo abandonou a cena, são abusadoras. Possuem com suas fantasias o corpo das filhas como um pedófilo que goza em preencher com seus desejos sexuais o vazio da criança que ainda desconhece os dela. Em ambos casos temos o adulto reinando absoluto, e a infância transformada em objeto passivo.
Mas por que esse circo de horrores tem audiência garantida? Horroriza e fascina essa cena de submissão infantil porque de algum modo nos identificamos com seus protagonistas. Na verdade sabemos que é inevitável na criação de um filho que os pais acabem projetando sobre ele seus desejos e frustrações. Não há nada anormal nisso, ele precisa confrontar-se com essas forças, mas apenas enquanto os parâmetros que usará para construir seus próprios ideais. Assistimos aliviados, pois nos salvamos dessa! Frente a essas mães totalitárias a nossa é um exemplo de democracia! Mas também nos hipnotiza, pois quem não desejou tornar-se a encarnação das fantasias da mamãe? Assim teríamos a garantia do seu amor? A mãe da pequena miss representa nossos piores pesadelos e inadmissíveis desejos.
Conficções
sobre o encontro da realidade com a ficção
Conviver com um escritor pode ser perigoso. Ele está sempre caçando histórias, chegou a confessar certa vez que no meio de uma discussão de relacionamento com a mulher distraiu-se bolando uma crônica sobre a situação. Episódios da vida de todos os circundantes podem ser capturados por ele e virar fantasia. Embora não tenha pudor em colocar nome e sobrenome das vítimas, ele torce o evento conforme a necessidade literária, nossas banalidades assumem um tom mais dramático. Padecem desse risco principalmente seus filhos e sua mulher, personagens prediletos, além dele mesmo, de sua realidade imaginária.
A própria realidade, vista com a lente da poesia que ele empresta ao cotidiano, vai se tornando igualmente estranha, ficcional. Quando menos esperamos, aprendemos com ele a fazer pequenas crônicas mentais do que vivemos: “isso dá uma crônica”, exclama frequentemente. Aliás, a expressão que intitula esta crônica, “conficção” é dele: Fabrício Carpinejar, que assim encontrou meio de expressar a união entre o depoimento sincero do que se viveu com a fantasia, a ficção.
Fabrício tem um nobre precursor, na figura de D.Quixote. De tanto turvar a realidade com as histórias de cavalaria que lia com ardor, o Cavaleiro Andante forçou aqueles com quem convivia a delirar com ele. Foi assim que convenceu um vendeiro, a quem chamava de castelão, a armá-lo cavaleiro, ladeado por duas moças da vida, que tratava como damas, a quem dizia passar a dever obrigações. Sobre um simples livro-caixa o assim denominado castelão concedeu a nobreza de que sempre careceu. Para tanto, recitou suas anotações em tom de reza, transformando um registro comercial em palavra mágica. Para Cervantes, a loucura é contagiosa, no melhor sentido.
Aquilo que julgamos ser uma realidade tampouco o é, pois memórias são duvidosas e relatos de fatos recentes são romanceados. Até a personagem que julgamos ser é uma construção ficcional, cujas características lapidamos até a morte. Da infância guardamos escassas memórias, cenas, trechos que quando contados nos deixam uma dúvida: será que lembro disso ou estou inventando a partir de alguma foto ou narrativa alheia? Nossa realidade é ficcional.
Quanto à ficção propriamente dita, alguém duvida que ela revela segredos do seu autor, muitos dos quais são inconscientes até para ele? Pura fantasia, portanto, não existe, verdadeira realidade, tampouco. Por isso, conviver com um escritor, ou mesmo com a literatura, é o mais interessante dos perigos: se não passamos de histórias, pelo menos podemos apostar em tornar-nos narrativas bem mais interessantes!
Fluxo da impessoalidade
sobre comportamento no trânsito
Motoristas sobrevoam uma paisagem, de preferência sem dispersão, atentos a rotas, contextos, coordenadas. Lombas e acidentes do terreno só exigem uma rápida mudança de marcha. Nada precisam saber de cheiros, gosmas na calçada, vegetação e sombras, do zoológico de animais domésticos, dos adolescentes coreografando sua música solitária, de velhos ocupados e crianças contando algo a um adulto que se reclina, de pessoas belas, esdrúxulas, vivazes, sorumbáticas. Com cada rosto que se cruza há uma negociação de olhares, uma história imaginada, medo ou confiança. Só os loucos desrespeitam a separação entre carros e pedestres: atravessam a rua costurando entre os carros, conduzindo sua moto de delírio.
Entre os veículos também há breves encontros em que os motoristas se enxergam, no tempo impaciente de uma sinaleira, na redução contrariada de um obstáculo. Mas a identidade não é o corpo, é o carro: é o gordo do Gol vermelho, a loira do Audi prata, o senhor da Saveiro preta. O carro é avatar: através dele expressamos, mas também ocultamos nossa personalidade. Isolados, minimizamos o encontro, xingamos tudo o que obstrui o fluxo. Parar nos deixa acuados, o engarrafamento nos desnuda.
No conto de Julio Cortazar chamado “A autopista do sul”, a história se passa numa estrada francesa, num engarrafamento ocorrido sem razões reveladas. São vários dias de imobilidade, ao longo dos quais os passageiros dos carros vão se transformando em membros de uma pequena sociedade nascente. A identidade das personagens inclui as características do veículo que dirigem. Organizam-se em grupos, lideranças se consolidam, redes de solidariedade se firmam, intrigas ameaçam a união. Nesse tempo de movimento cessado a vida segue: há doença, um suicídio, até uma história de amor brota do árido asfalto. O autismo (perdão pela piada involuntária) do trânsito foi sendo suplantado pela empatia do grupo. Subitamente o engarrafamento dissolve-se tão inexplicavelmente quanto se perpetuara. Retomado o movimento da autopista, os carros se distanciam velozmente e sentimos pena dos vínculos que se desmancham. Instala-se novamente o fluxo da impessoalidade.
Deslocar-se não é um trecho fora da vida. Existimos também no tempo em que ainda não chegamos, enquanto “estamos indo” para algum lugar. Por que não incorporar os trajetos na nossa consciência? Andar, pedalar, usar transportes coletivos (que não fossem uma tortura), são formas de locomover-se vendo sutilezas, suportando a existência de outros corpos. Mesmo que todos pareçam tão nus, sem seus cascos, tão frágeis, sem escudo.
Bullying: usos e abusos de um termo
sobre o uso abusivo da interpretação de bullying para situações de violência
De tanto em tanto sofremos epidemias de explicações, e já faz algum tempo que o bullying está nesse registro. Denunciar essa prática é válido para revelar um sadismo que nunca esteve ausente da relação entre as crianças, frente ao qual as instituições escolares sempre foram cegas. Porém, acabamos observando outro fenômeno: o de um termo que acaba deixando de interpretar fenômenos e começa a participar de sua gênese.
Semana passada, um jovem entrou numa escola em Porto Alegre gritando, agredindo e causando pânico na sala de aula. Ex-aluno, justificou-se dizendo que estava vingando o bullying sofrido pela irmã. O assassino perturbado do Realengo também teria sido vítima de tal prática. Hitler teria arcado com as consequências de sua baixa auto-estima e o próprio nazismo seria uma reação do povo alemão à posição humilhante em que o resto do mundo os colocou após a primeira guerra. Um marido traído, motivo de chacota entre os conhecidos, pela mesma linha de argumentação, teria justificativa para matar os amantes e todos os fofoqueiros de plantão. A cadeia de ressentimentos pode não ter fim quando uma vitimização qualquer funciona como justificativa para um ato de violência. É a apoteose dos agressores que se sentem vítimas.
Minha entrada na escola deu-se juntamente com a aprendizagem da língua portuguesa, falar errado e ser estrangeira não foi fácil. Era a única criança judia da escola pública na qual fiquei até a adolescência. Na época, rezava-se todas as manhãs antes do início das atividades (nosso país sempre foi laico em termos), eu era convidada a retirar-me. O objetivo de evitar constrangimentos, ao me impor outra religião, causava um pior: o exílio do pátio. Passei, portanto, por situações que poderiam ter sido caracterizadas como bullying, as quais sempre foram poucas porque me mimetizava, tinha terror de ser tachada de diferente, já que de fato era.
Um padecimento qualquer não é uma sentença de vida, é um elemento com o qual se faz o que se consegue. Na clínica, conheci jovens e crianças que faziam coisas desagradáveis ou ridículas para que isso atraísse a agressividade dos outros, geravam hostilidade e com isso realizavam uma fantasia inconsciente. O bullying é um fenômeno, mas sua causa compõe-se de infinitas variáveis. Ser hostil com os outros, como é o caso dos algozes, provocar os maus tratos sofridos, como por vezes é o caso das vítimas, ou mesmo ser incapaz de entrosar-se, são sintomas psíquicos, mensagens atravessadas. Perceber que a escola é a primeira experiência de socialização, onde podem nascer sofrimentos que perduram, é fundamental, mas que isso sirva para tornar a instituição mais sensível, não para aumentar o coro das vinganças justificadas.
Memória da destruição
sobre o trabalho do artista plásitico Franz Krajcberg e seus 90 anos
Depois de muito expor, o artista plástico Franz Krajcberg se exilou num sítio, em meio às árvores que cultivou e que são hoje tão velhas quanto ele, que completou 90 anos dia 12 de abril. Ele é dono de um trabalho ímpar: esculturas compostas de troncos, ramos e raízes recolhidos em queimadas ou zonas de desmatamento, que ganham vida, mas trazem cicatrizes do encontro com a onipotência dos homens (ver em: http://www.krajcberg.vertical.fr/). O homem não desistiu, aprofundou-se, foi escolhendo caminhos que o embrenhavam no interior da sua floresta particular. Deixou de fabricar Pinóquios, pedaços de pau que na sua mudez falam e reivindicam como o marionete de Collodi. Agora é ele que se lignifica lentamente, não vai morrer, vai virar árvore.
De origem judaico-polonesa, sobreviveu a vários momentos trágicos da Europa, lutou e viu seu mundo e família serem assassinados, queimados, ruírem. Saído da guerra, refugiou-se neste país tropical que somos. Muitos vieram apostando que a exuberância destas terras renderia eterna fartura aos que nelas se exilassem. Cantaram as matas verdejantes, seus frutos e gente morena, deitaram-se em redes, esquecidos do seu velho mundo hostil. Fazem isso desde que o Brasil foi descoberto. Krajcberg não aportou no Brasil para entrar em algum tipo de fantasia idílica, suas retinas continuaram constatando a destruição, mesmo quando ela ainda não era visível. Era inegável que a natureza estava queimando como as cidades que viu arderem na guerra, que a vida das florestas fenecia, como os corpos magros dos famintos, prisioneiros das misérias bélicas que testemunhara. Fugiu de um genocídio para esbarrar num massacre vegetal. Sua obra é por ele intitulada de “memória da destruição”.
Experiências traumáticas esterilizam o discurso, as guerras deixaram gerações de silenciosos, quem viveu o horror sente que contar é reviver, envergonha-se de sobreviver, seu passado é inefável, não espera ser compreendido. Poucos conseguiram tomar a palavra, mas ele o fez esculpindo com as raízes retorcidas de uma natureza que descobriu estar sendo também bombardeada. Para Krajcberg uma destruição é sempre metafórica de outra. Agora, somente fotografa. Como se estivesse coletando e preservando imagens de plantas: espécimes para uma Arca de Noé imaginária. Seus olhos substituem as imagens do que não gostaria de ter visto por outras, maravilhas vegetais que não quer que desapareçam. Fotografando envia-as para uma posteridade à qual não tem muita esperança de que chegarão. A destruição é inesquecível. Sua arte um modo de sobreviver.
Avulsos
Sobre dificuldades enfrentadas por solteiros e descasados
Há ocasiões em que algo que os pacientes dizem interpela seu analista. Uma paciente contava uma história recorrente na vida de muitos: ela é solteira e falava de uma reunião familiar, na qual tentava sem sucesso encontrar lugar na conversa de seus pais e irmãos, cunhados e sobrinhos, todos legitimados pela condição de casal e entrosados na empreitada da reprodução. Embora não tenha constituído família, já havia comparecido acompanhada a esses eventos e sentia-se melhor, pelo menos não parecia ser uma extraterrestre. De repente ela repetiu uma frase minha, pinçada de uma entrevista, da qual eu não lembrava: “a sociedade trata muito mal os avulsos”. O que eu hipoteticamente já sabia, soou como se fosse a primeira vez.
A frase ressoava, desejosa de associações e de uma interpretação. Precisei entendê-la melhor para descobrir por que aqueles que não se apresentam pareados ou com seus descendentes pagam o preço da hostilidade ou da indiferença. Não só solteiros padecem, também viúvos e separados vivem essa sensação de que estão vivendo algo errado. A interpretação que me ocorreu foi a seguinte: identifiquei-me com a queixa da minha paciente porque, quando criança, nos anos anteriores ao segundo casamento, minha mãe também era avulsa. Vivemos ambas, ela viúva e eu órfã, essa condição de deslocadas. Fazia-me inveja a aparência superior das famílias completas, nós éramos tortas.
A família ainda guarda algum prestígio em nossos tempos incrédulos e sem esperança, impõe sua estrutura nuclear – casal com filhos – enquanto cânone, lugar certo para a transmissão de valores e construção da personalidade. Só isso já seria fonte provável de tal mal-estar, vivido pela paciente e na minha infância. Mas há um detalhe a mais: ela é gay e quando comparecia com uma companheira às reuniões todos lhe eram gentis, por mais reacionários que fossem. Então não se trata só de tradição, família e propriedade.
O que mexe com os pareados é uma inveja do avulso, sua possibilidade de estar só, livre para dispor do seu tempo, para escolher caminhos sem consultar ninguém. A solidão pode ser dolorida, mas aos avulsos raramente faltam amigos com quem dividir prazeres e dores, além de amores, que podem até não durar, mas emocionam. Fazer escolhas é perder as outras vidas possíveis e lembrar disso abala estruturas. Os avulsos representam liberdade perdida, vínculos desfeitos, morte, a labilidade do amor. Sua presença desperta desejos e fobias, por isso a sociedade os constrange. Toda diferença questiona.
Amadores do Sexo
sobre Bruna Surfistinha e prostituição
Perdoem-me o trocadilho infame, mas em poucas áreas somos mais amadores do que no sexo. Por isso, as palavras de uma expert, impactam. Raquel Pacheco, retratada no filme Bruna surfistinha, assistido por mais de dois milhões de espectadores, foi uma garota de programa. Sua história, narrada originalmente no livro O doce veneno do escorpião, serviu como elo entre os profissionais do sexo e a vasta legião de adultos, praticantes amadores. Moça de classe média, filha adotiva, acabou rompendo com a família para abrigar-se na identidade de prostituta. Os instrumentos de sua educação revelaram-se na escrita, num blog, batizado com seu nome de guerra, onde contava em detalhes seu cotidiano, incluindo sua avaliação sobre o desempenho dos clientes. Como profissional Bruna era apenas mais uma, foi ao escrever sobre o que todos desejam saber, que Raquel encontrou a celebridade.
Frente ao sexo nos sentimos da mesma forma do que em relação aos computadores: neles sempre há muito mais funções e possibilidades que não sabemos explorar. Mesmo aos mais ousados resta a idéia de estar sub-utilizando sua “máquina” e hoje não perdoamos à vida que não entregue todo o gozo que nos devia. Não faltam sexólogos para instruir sobre os caminhos que o prazer poderia trilhar e as palavras destes sempre encontram bom público, tanto maior quanto for a sinceridade dos autores. É justamente no item da sinceridade que Bruna derrota seus concorrentes teóricos, pois suas experiências são reais.
Gostamos de acreditar que as prostitutas não são de fato mercenárias, porque nos identificamos com elas. Afinal, todos julgam ser como elas: um de dia e outro de noite. O gozo fingido que elas praticam também não nos é estranho, se insinua nas ocasiões em que, no casal, um se consagra ao prazer do outro, numa cena que bajula seu desempenho ou dotes. Além disso, detestamos pensar que a relação sexual possa ser apenas um trabalho, uma tarefa, e não a expressão máxima do que se é, a verdade última do amor e do valor de cada um. Prima donna do nosso imaginário, a prostituta tem por clientela todos os que fantasiam com ela e através dela. Ela encarna a inflação de sentidos que em vão esperamos do sexo.
O texto de Raquel não tem excelência literária, mas estende uma ponte entre a mulher comum e a prostituta. Em suas palavras: “As mulheres tem de ser damas para a sociedade e putas na cama, sempre disse isso. Mas também sempre digo que temos que ser putas mulheres e mulheres putas. Muitas mulheres perdem seus homens não porque não os satisfazem sexualmente, mas porque não são ‘putas mulheres’”. Se multidões se interessaram pela sua história e pelo seu texto é graças ao prestígio que o gozo sexual tem entre nossos valores. Tentamos aprender com sua experiência, afinal, quem não gostaria de colocar no currículo que no sexo é fluente e diplomado?
Mulheres indomadas
Sobre o filme “Gata em teto de zinco quente”, adeus a Liz Taylor
Ao chegar em casa Marge encontra seus detestáveis sobrinhos, a quem chama de monstros sem pescoço, que a recebem com uma salva de sorvetes. É com prazer que ela revida, com grossa camada de sorvete esfregada no rosto da criancinha malcriada, para horror da cunhada, grávida do sexto filho. Ela entra ao encontro de seu marido, que não se alegra com sua presença, não quer mais do que o copo de uísque, sua companhia predileta. Ela ainda tenta fazer-se notar, tagarela enquanto limpa as belas pernas que as crianças haviam sujado, depois sobre elas coloca delicadas meias de seda, a câmera sobe por elas junto com nosso olhar. Nós, do público, não ignoramos seus atrativos: é Elisabeth Taylor, no auge da sua beleza, que encarna a apaixonada e rejeitada protagonista de “Gata em teto de zinco quente”. Trata-se de uma mulher cuja beleza não consegue retirar o homem amado da melancolia, sua dedicação não se sobrepõe ao efeito do álcool, que o anestesia da dor e da covardia de viver.
O filme é de 1958, baseado numa peça de Tenessee Williams, que aliás detestou a versão. Corriam os anos do pós guerra, nos quais as mulheres, em sua maioria ainda esposas e mães, não conseguiam voltar às trincheiras do lar, mesmo que quisessem. Sequer a possibilidade de encarnar a mulher objeto, aquela para quem as belas pernas bastariam para triunfar, foi de bom proveito para essa geração. Trata-se das infelizes donas de casa retratadas por Betty Friedan. Suas filhas herdaram-lhes a insatisfação, mas foram à luta, participando da revolução dos costumes da década que principiava.
As mulheres de Elisabeth Taylor, suas personagens mais marcantes, eram esposas, mas estavam mais para megeras do que para domadas. A verve dessas mulheres de visão sagaz e frases impactantes as diferenciou das suas mães e avós, que se contentaram em oferecer ao mundo sua beleza e dedicação à família. Nas falas dessas personagens, seus maridos são desmascarados: o patriarcado vai sendo deposto pelas personalidades fortes delas. Ora os denunciam, ora os fortalecem, ora com eles disputam território, a trama varia, mas o protagonismo feminino explode, mesmo que ainda preso aos estreitos limites do lar. O homem frágil de Marge encontra a oportunidade de reatar com seu pai à beira da morte graças à persistência dela em recupera-lo para si e para a vida. Para isso de nada serviram suas pernas. Longe dos papéis tradicionais essa mulher conquista a admiração do patriarca: o sogro moribundo tem sua eleita na jovem, que não lhe dera netos, nem conseguira trazer prosperidade ao marido bêbado.
A gata em teto de zinco quente é aquela que não se acomoda, não adormece, não pára, suas patas queimam e doem. Elisabeth Taylor deu corpo e alma às mulheres afastadas do refúgio da mesmice. Idômitas, língua afiada, perspicazes, elas nunca mais foram objeto decorativo, mesmo que tivessem olhos violetas. Liz, obrigado e adeus.